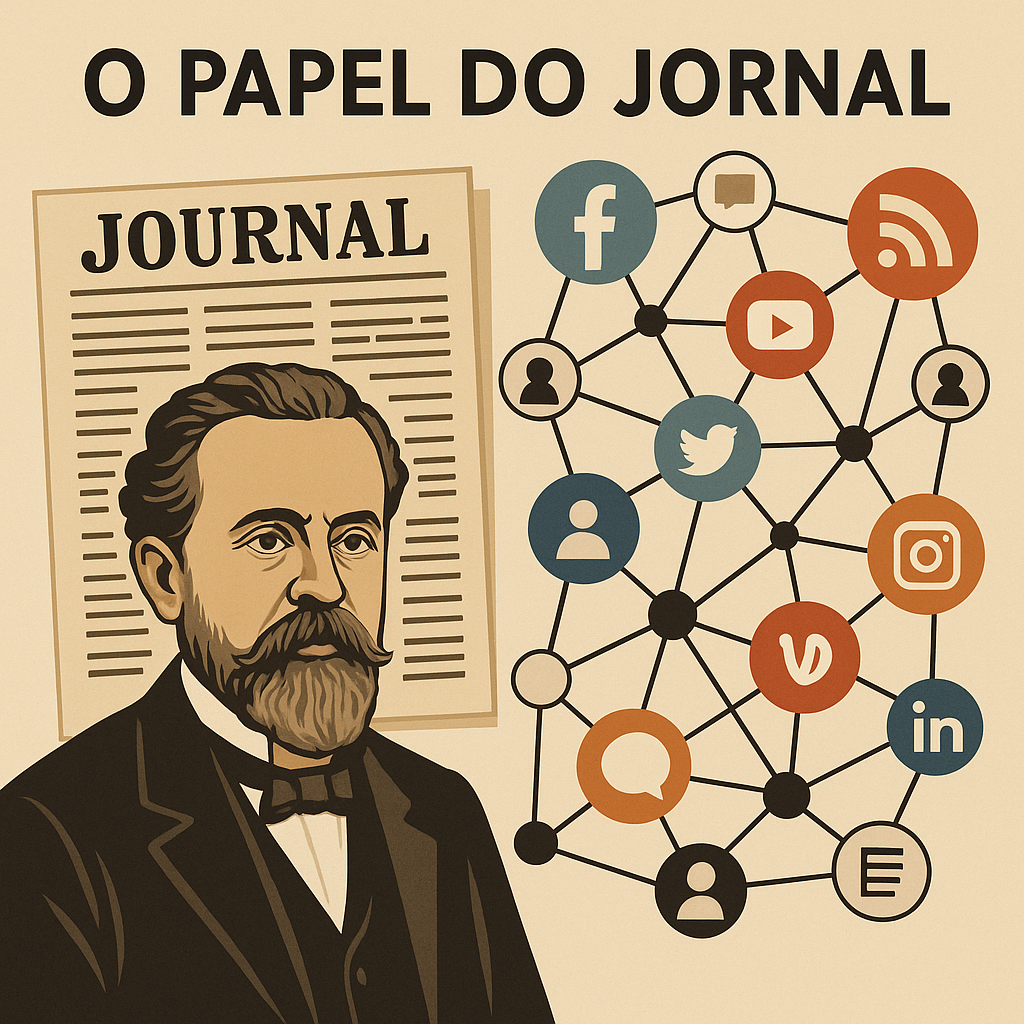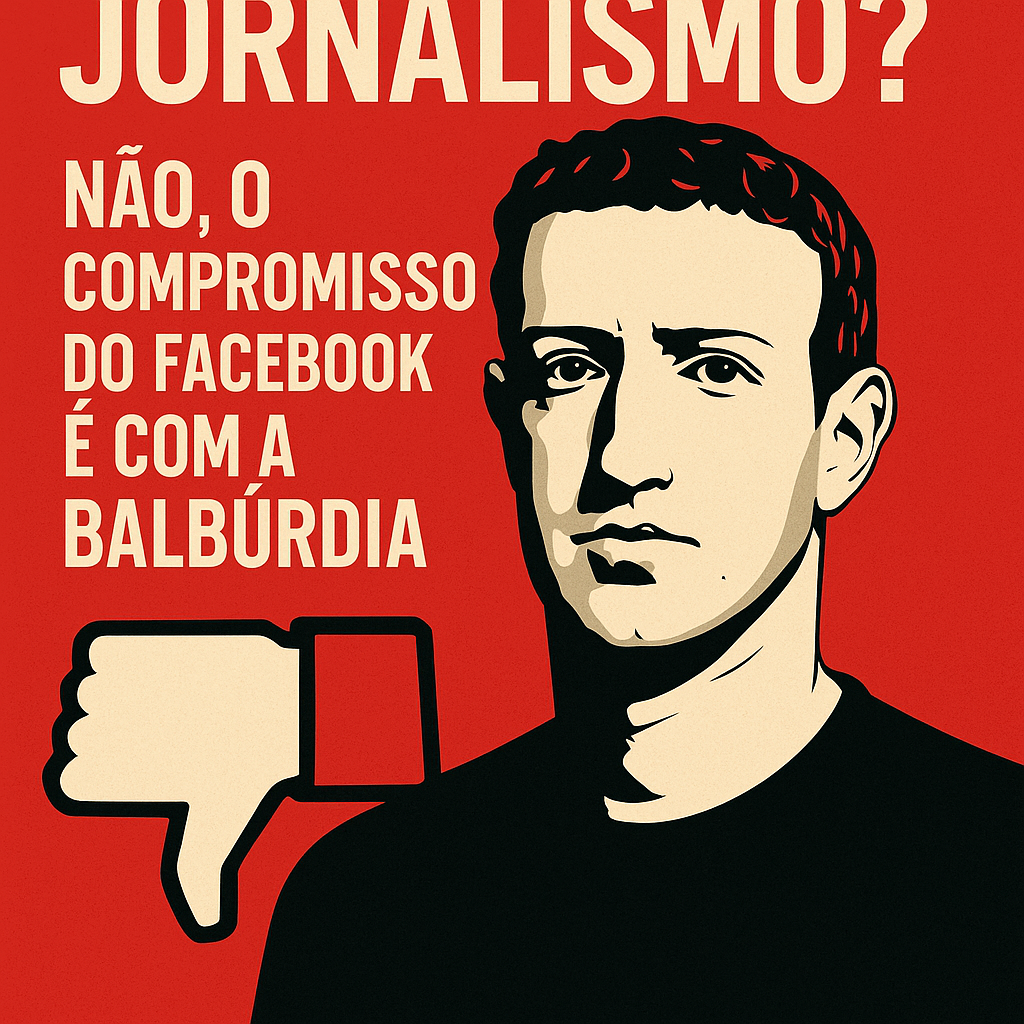-

As notícias que você lê, os vídeos a que assiste, os tweets que viralizam – nada disso é aleatório. Hoje, quase toda a informação passa por plataformas digitais onde a mediação pública foi automatizada por algoritmos invisíveis, projetados para capturar atenção, prever comportamentos e moldar o pensamento coletivo. Essa transformação radical opera silenciosamente: reorganiza valores,…
-

Artigo publicado na revista de jornalismo da espm em 2014 Olhando o futuro pelo espelho retrovisor O ano era 94, o país o México, governado pelo corrupto Carlos Salinas, que tinha adotado uma política de ajuste do câmbio correlacionado às variáveis de inflação e juros, com uma desvalorização progressiva e controlada do peso atrelado ao…
-
Guia para a Tecnologia Publicitária (Guide to Advertising Technology) G (por Elizabeth Anne Watkins, Columbia Journalism Review) Resumo A tecnologia publicitária gerou uma imensa infraestrutura técnica. As tecnologias e motivações da publicidade são a base da economia da internet. Os sites jornalísticos não são exceção. As informações que procuramos sobre o mundo estão apoiadas e…
-
Texto de meados dos 90 para a revista da BBS do Aleksandar Mandić sobre a Web e seus impactos sobre a sociedade
Páginas
_______________________________________________________